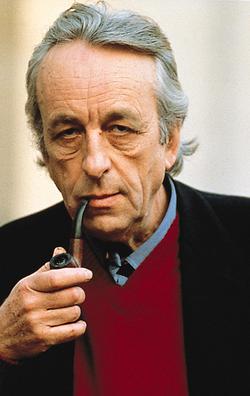Por João Sicsú* no livro ''Sociedade e economia: estratégias de crescimento e desenvolvimento'' (organizadores: João Sicsú e Armando Castelar - Brasília: IPEA, 2009)
Uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Brasil deve ser composta de duas partes. A primeira é o ponto final, ou seja, para onde se quer levar a sociedade. E a segunda é a trajetória econômica que deve facilitar a chegada ao ponto final -- um país com a máxima qualidade de vida para todos. Uma estratégia de desenvolvimento para ser factível deve, acima de tudo, emular o imaginário da sociedade, ser transformada em sonho, utopia e orgulho. Políticas públicas, instrumentos, objetivos, metas, mecanismos de avaliação devem, de forma inescapável, compor uma estratégia de desenvolvimento, mas se ela não for transformada em sonho da maioria dos cidadãos permanecerá como mais um documento na gaveta.
Indivíduos têm percepções diferenciadas da realidade presente, do passado e do futuro. Muitos aspectos podem explicar essas percepções diferenciadas: grau de formação, de informação, acesso à cultura, ao lazer, inserção social, infortúnios, histórico familiar, processos psicológicos etc. A forma mais conhecida de de aglomeração de indivíduos (que são e devem continuar sendo) heterogêneos, com diferentes interpretações em torno de uma estratégia de desenvolvimento, tem sido através de símbolos. Símbolos são imagens, slogans ou coisas assemelhadas. Símbolos são sínteses de ideias, de projetos -- símbolos são também necessários porque são formas de substituição de líderes únicos. Uma estratégia de desenvolvimento deve prescindir da ação de um líder (com suas idiossincrasias e desejos particulares), o que torna ideias e ideais em movimento sintetizados por símbolos algo imprescindível.
O slogan ''O petróleo é nosso'', que movimentou grande parte da sociedade brasileira em defesa da criação da Petrobrás, é um exemplo de símbolo que representou uma utopia que envolvia soberania e nacionalismo. A Petrobrás foi criada para ser monopolista de alguma coisa que à época inexistia: era puro sonho que se tornou uma realidade. O movimento pelas ''Diretas já'' (em 1984) sumariou sonhos de milhões de brasileiros por um país democrático. Os estudantes ''caras pintadas'' que tomaram as ruas, em 1992, exigindo o impeachment do presidente Fernando Collor, representaram um movimento contra a corrupção e pelo aprofundamento da democracia. ''O petróleo é nosso'', as ''Diretas já'' e os ''caras pintadas'' foram símbolos construídos pelo movimento dos movimentos da sociedade.
O slogan ''O petróleo é nosso'', que movimentou grande parte da sociedade brasileira em defesa da criação da Petrobrás, é um exemplo de símbolo que representou uma utopia que envolvia soberania e nacionalismo. A Petrobrás foi criada para ser monopolista de alguma coisa que à época inexistia: era puro sonho que se tornou uma realidade. O movimento pelas ''Diretas já'' (em 1984) sumariou sonhos de milhões de brasileiros por um país democrático. Os estudantes ''caras pintadas'' que tomaram as ruas, em 1992, exigindo o impeachment do presidente Fernando Collor, representaram um movimento contra a corrupção e pelo aprofundamento da democracia. ''O petróleo é nosso'', as ''Diretas já'' e os ''caras pintadas'' foram símbolos construídos pelo movimento dos movimentos da sociedade.
Há, portanto, outro elemento importante de uma estratégia de desenvolvimento: símbolos não são criados em laboratórios ou gabinetes. Quem saberia dizer quem disseminou o slogan ''Diretas já''? Quem imaginou que ''caras pintadas'' poderiam representar a indignação de milhares de jovens? Símbolos resultam da mobilização em torno do debate amplo e organizado sobre a rejeição ao que seja antiquado e a construção do novo.
Portanto, uma estratégia de desenvolvimento não é um plano de governo detalhado, assim como não deve conter respostas para a lista infindável de questões que afligem a todos os cidadãos brasileiros. Uma estratégia de desenvolvimento deve ser construída no debate com a sociedade a partir de linhas gerais que descrevam: I) o objetivo final -- um país em que questões materiais não sejam barreiras intransponíveis à felicidade; II) a trajetória -- políticas públicas, procedimentos e regras para se formatar e reformatar continuamente um novo país.
O objetivo final de uma estratégia de desenvolvimento deve ser a construção de uma sociedade democrática, tecnologicamente avançada, como emprego e moradia dignos para todos, ambientalmente planejada, com uma justa distribuição da renda e da riqueza, com igualdade plena de oportunidades e com um sistema de seguridade social de máxima qualidade e universal -- cujas partes imprescindíveis devam ser sistemas gratuitos de saúde e educação para todos os níveis e necessidades. O Estado de Bem-Estar Social é o conceito que resume esse conjunto de objetivos. O Estado de Bem-Estar Social é a maior conquista da civilização ocidental ao longo do século XX. Foi a conjugação única de fatores sociais, políticos e econômicos que conformou um ambiente institucional que valoriza a liberdade, a individualidade, o trabalho, a atividade empresarial, a gestão republicana do Estado, a justiça e o bem-estar social. Sua construção teve início principalmente ao final da década de 1940 na Europa ocidental, o palco da sua realização Hoje há um Estado de Bem-Estar Social em diversos países europeus, com destaque para Suécia, Noruega, Finlândia, França, entre outros.
O funcionário do governo inglês William Beveridge foi um dos mais importantes idealizadores da utopia europeia do Ocidente. Ele foi além, muito além, do chanceler Bismark, que havia construído na Alemanha, ao final do século XIX, um sistema de proteção social baseado na atividade do trabalho que relacionava benefícios pagos ao sistema às contribuições efetuadas. Beveridge desconstruiu o modelo de Bismark ao propor um sistema social que não estava baseado exclusivamente na atividade do trabalho, mas, sim, na existência do cidadão. Portanto, um sistema de segurança de vida de todos e para todos -- que ofertaria benefícios a todos. Entretanto, o Estado de Bem-Estar Social é muito mais que o sistema de seguridade social universal beveridgeano. As ideias de universalização do direito ao emprego, de harmonia e complementaridade entre capital e trabalho, de valorização da concorrência e de uma justa distribuição de renda e da riqueza podem ser atribuídas ao economista inglês John Maynard Keynes. O republicanismo e a democracia foram conquistas de origens diversas, mas seu símbolo maior é sem dúvida a Revolução Francesa de 1789 (e diversos fatos que a sucederam), baseada no trinômio liberdade-igualdade-fraternidade.
A implantação de um Estado de Bem-Estar Social no Brasil está longe de ser apenas a tentativa de realização de uma cópia do modelo europeu. O Estado de Bem-Estar Social europeu deve ser visto como uma ''obra aberta'', sua construção no Brasil deve ser uma ''improvisação criadora'' para utilizar os termo de Umberto Eco em seu livro Opera Aperta. É o equilíbrio entre a observação, a interpretação e a criação que devem balizar os limites do que está definido e do que está aberto na obra de arte social europeia. Portanto, ''definitude'' e ''abertura'' de um modelo econômico e social são importantes conceitos de limite que devem ser considerados em um processo de desenvolvimento para o Brasil. Há de singular, de definido, no Estado de Bem-Estar Social implementado na Europa um conjunto específico de pilares que não podem ser reinterpretados ou recriados, tal como o sistema universalista bevedridgeano de seguridade social. A seguridade social universal é o que garante o exercício da individualidade do cidadão sem discriminação, Reinterpretar a seguridade social universal ou recriá-la, neste caso particular, significa transformá-la, e corre-se o risco assim, por exemplo, da criação de um modelo contábil e atuarial de seguridade social que se torna ''foquista'' (somente atendem aos que contribuíram, a la Bismark).
Apesar de se ter clareza dos limites, ou seja, da ''definitude'' e também da ''abertura'' interpretativa e criadora do Estado de Bem-Estar Social europeu, não é possível fora de um movimento concreto de construção de uma estratégia de desenvolvimento do país estabelecer com maior exatidão o desenho de sociedade que se deseja. Ainda numa abordagem inicial, é melhor deixar essa pergunta (que incomoda) despercebida e reproduzir as palavras daquele que soube definir a felicidade em diversas passagens de sua obra. Enfim, o que deseja para o Brasil é um país, como disse Vinícius de Moraes, em que se tenha ''tempo para a peteca e tempo para o soneto. Tempo para trabalhar e para dar tempo ao tempo. Tempo para envelhecer e ficar obsoleto...''
Por mais definida que seja uma estratégia de desenvolvimento, ela estará sempre em construção, seja para aqueles que ainda estão fazendo o vestibular para entrar na rota do desenvolvimento, tal como o Brasil, seja para aqueles que já são desenvolvidos. Uma estratégia de desenvolvimento está sempre em construção, inclusive, nos países mais desenvolvidos do planeta. Verdadeiros gestores de estratégias de desenvolvimento sentem de forma permanente aquilo que Camille Claudel sentia da distância imposta por Auguste Rodin: “há sempre algo de ausente que me atormenta”.
O Estado de bem-estar social foi construído na Europa em um momento histórico muito particular e favorável. Havia uma pressão externa: a ameaça socialista que teve início com a Revolução Russa de 1917 e que se consolidava sobre parte da Europa pelas mãos do exército soviético. Havia pressão interna: as idéias socialistas avançavam na Europa ocidental, através de organizações e partidos com bases populares e operárias. E havia um estado geral de decepção com a qualidade de vida: lamentos e reclamações emanavam de todos os lares. Afinal, o sistema institucional baseado na ideia de que as forças de mercado, com Estado mínimo e/ou ausente, iriam reduzir o desemprego foi derrotado pela realidade: a Europa vivia uma crise de desemprego, desde os anos 1920. Este é um ponto muito importante: saber se existem condições históricas que favorecem a implementação de um novo modelo em um determinado país.
As políticas macroeconômicas formam o pavimento necessário, mais básico, de uma estratégia de desenvolvimento. Políticas macroeconômicas adequadas podem promover o crescimento e a industrialização (tecnologicamente sofisticada), que são os itens mais essenciais da cesta do futuro de bem-estar social. O crescimento e a industrialização estão muito longe de ser tudo, mas sem eles nada haverá. Políticas são ações conscientes e planejadas. No caso de políticas macroeconômicas, são ações planejadas por governantes de Estado, que utilizam os três caminhos clássicos disponíveis: a política cambial, a política monetária e a administração fiscal. Pode-se argumentar que a intervenção estatal foi correta apenas no passado, porque os investimentos exigiam montantes que a iniciativa privada era incapaz de mobilizar, dada a atrofia dos mercados de capitais ou ainda porque faltava informação correta para que os empresários soubessem onde investir, com maior certeza de lucratividade. Está é uma visão incorreta da relação entre Estado e mercado, tanto do ponto vista teórico quanto histórico.
A necessidade de o Estado participar ativamente da vida econômica de uma sociedade não está relacionada às especificidades de certo período histórico ou a alguma falha do sistema capitalista, que pode ser corrigida. Uma abordagem teórica simples é capaz de mostrar a necessidade do Estado ativo para que a economia possa prover um ambiente de bem-estar social e dinamismo nos mercados. O ponto central é que as ações (que são racionais) da iniciativa privada são pró-cíclicas – tendem a agravar situações.Turbulências econômicas são da natureza do sistema, surgem no seu interior e de forma repentina, mesmo em tempos de céu de brigadeiro. E tais turbulências tendem a se transformar em crises, quando não há a intervenção anticíclica do Estado. Situações de crise ou de semi-estagnação podem permanecer por tempos indefinidos, porque não existem mecanismos de correção automática. Não se trata de ter paciência para esperar. Ainda que este fosse o caso, o custo social do tempo de espera seria alto demais.
Uma abordagem da realidade é capaz de provar esta inseparabilidade entre Estado e mercado, para que se possa promover uma vida em sociedade com felicidade. A chamada “época de ouro” do crescimento econômico e do desenvolvimento social, principalmente na Europa, foi no período de maior interação entre a sociedade organizada, os empresários e os governos – o que ocorreu no final dos anos 1940 até o final dos anos 1960. A alta inflação no Brasil permaneceu por décadas, até que houvesse um Plano de Governo anti-inflacionário, no ano de 1994. Embora sujeitas a controvérsias, as intervenções do Fundo Monetário Internacional (FMI) são feitas por um agente externo à economia quando o Estado, através de seus governantes, já esgotou as suas forças; as intervenções do FMI são a maior prova de que sem Estado, ou quando ele é impotente, é preciso se realizar uma super-intervenção que vem de fora para recolocar preços macroeconômicos de volta em determinada posição.
É também parte constituinte de uma estratégia de desenvolvimento a ideia de que o governo deve implementar políticas macroeconômicas capazes de gerar a sensação de segurança para que empresários se sintam estimulados a empreender grandes investimentos, que sejam lucrativos e geradores de renda e empregos. O governo deve também fazer aquilo que a iniciativa privada não faz. Em essência, os preços estratégicos macroeconômicos de uma economia devem favorecer o investimento, a geração de renda e de empregos. Sob estas condições favoráveis, se as forças de mercados não realizarem os investimentos necessários, deve entrar em campo a mão visível do Estado realizando o investimento. Em princípio, o Estado não faz melhor ou pior que a iniciativa privada, ele é necessário para fazer o que ela não faz, e deve fazê-lo bem.
É mera falácia que a iniciativa privada é mais capaz por definição que o setor público para gerenciar grandes atividades econômicas. Muitos concordam com esta afirmação, afinal são inúmeros os impérios econômicos empresarias e financeiros que já ruíram, assim como existem grandes e sólidos negócios gerenciados pelo setor público, mundo afora. Mas alguns têm argumentos mais sofisticados. Argumentam que a preferência pelos negócios privados se sustenta porque quando uma empresa privada é improdutiva ou quebra quem paga a conta é o empresário. E que impropriedades no setor público são pagas pelo contribuinte. Ledo engano: sempre é o cidadão quem paga a conta. No caso do setor público, pagam-se os “problemas” com mais impostos e, no caso do setor privado, os “problemas” são pagos com preços mais elevados.
As políticas macroeconômicas devem favorecer o investimento visando à geração de empregos, renda e à industrialização. Deve-se buscar, através de diversos mecanismos, a industrialização em segmentos densos de tecnologia. A busca incessante por um modelo de industrialização sofisticada (eletrodomésticos, automóveis etc.) possui um aspecto essencial. A especialização na produção de commodities e a industrialização que gera baixo valor agregado (um modelo de economia primarizada) constituem um modelo bastante propício para a consolidação de um esquema concentrador de renda e de riqueza. O modelo primarizado gera altos lucros, empregos com baixa remuneração e ocupações não formalizadas, de acordo com a legislação trabalhista. O modelo de economia industrializada gera muitos empregos, de remuneração mais elevada e favorece o estabelecimento de relações formais de trabalho. Esta é uma opção crucial: primarização ou industrialização sofisticada?
A política cambial que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada é aquela capaz de estabelecer um taxa de câmbio competitiva para a produção e a exportação de bens manufaturados. Uma taxa cambial neste patamar, por um lado, favorece a realização de mega-superávits comerciais e, portanto, o acúmulo de reservas não-voláteis e, por outro, é uma proteção contra crises cambiais de desvalorização abrupta, pelo simples fato de que uma taxa desvalorizada tem uma chance menor de se desvalorizar (ainda mais) do que uma taxa valorizada. Uma política de administração cambial – de uma taxa que deve ser flutuante – em que o Banco Central compra e vende reservas, realizando um verdadeiro processo de sintonia fi na, é capaz não só de manter a taxa de câmbio em patamar competitivo para as exportações de manufaturados, mas também é capaz de reduzir a sua volatilidade – reduzindo, em decorrência, a atividade especulativa no mercado de moeda estrangeira.
A defesa do equilíbrio externo requer atenção não somente com a balança comercial, mas também com a conta de investimentos financeiros internacionais. Capitais financeiros que têm por finalidade financiar o investimento e a produção são bem-vindos, sejam eles domésticos ou estrangeiros. Capitais financeiros que tem o mero objetivo de sua capitalização, sem que este processo traga benefícios à produção ou ao investimento, não são bem-vindos. Estes capitais somente provocam pressão valorizativa sobre o câmbio, no momento da sua entrada, e pressão desvalorizativa, no momento da sua saída: nada mais. O movimento dos capitais financeiros que busca apenas a sua capitalização através de movimentos especulativos e de arbitragem deve ser desestimulado. A primeira e principal medida neste campo é o estabelecimento de uma taxa de juros básica da economia, em patamar semelhante aos juros americanos. Uma taxa de juros muito elevada em relação à taxa de juros americana é maléfica para a economia, em pelo menos três aspectos: i) atrai capitais financeiros especulativos para o país; ii) eleva demasiadamente o custo de carregamento de reservas por parte do Banco Central; e iii) desestimula o investimento produtivo. Se uma taxa de juros relativamente baixa não for capaz de evitar os males dos movimentos especulativos dos capitais, outras medidas devem ser adotadas. Por exemplo, a cobrança de impostos sobre a movimentação financeira internacional ou outras medidas administrativas a serem definidas.
A política monetária que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada é aquela que é totalmente consistente com a política cambial descrita. Não se pode determinar uma política monetária independentemente da política cambial (e vice-versa), ainda que o regime de câmbio seja flutuante, porque um regime de altas taxas de juros está necessariamente associado a um regime de câmbio valorizado. Esta é uma conhecida gangorra da macroeconomia. Uma política monetária de taxas de juros baixos é consistente, portanto, com uma política cambial de taxa competitiva. Como dito, uma política de taxas de juros elevadas determina uma taxa de câmbio valorizada e impõe custos elevadíssimos de carregamento de reservas ao setor público, que recebe a taxa de juros americana e paga a taxa de juros doméstica por cada dólar retido no Banco Central.
A taxa de juros é fundamental para manter o equilíbrio externo: transações com o exterior financiadas e blindagem contra movimentos de capitais financeiros que são maléficos. Mas é também fundamental para manter o equilíbrio interno: alto crescimento com infl ação baixa. Nesse sentido, uma nova concepção deveria governar a determinação da taxa de juros. Todo poupador cujos recursos não fi nanciam algum tipo de gasto doméstico (consumo ou investimento) é um gerador de desemprego. Quanto maior a taxa de juros maior é o estímulo para a poupança e, portanto, maior é o desemprego causado pelo poupador. Logo, a taxa de juros deveria ser pensada como um instrumento capaz de punir aqueles que não querem gastar, ou seja, como um instrumento que pune o gerador de desemprego. Portanto, a taxa de juros deveria ser sempre baixa, muito baixa.
A taxa de juros, por ser um instrumento capaz de controlar a demanda agregada, já se mostrou plenamente eficaz para o controle da inflação. Contudo, é preciso entender que sua funcionalidade depende de sua perversidade, isto é, gerar desemprego – para que haja uma redução de demanda relativamente à oferta, o que inibe o reajuste de preços. Mas como a economia de bem-estar que se deseja construir é uma economia de emprego para todos, estabelece-se aqui um trade-off: de um lado, um instrumento anti-inflacionário funcional que gera desemprego; e, de outro, a obrigação estratégica permanente de gerar mais empregos. A alternativa não pode ser abandonar a taxa de juros, um instrumento anti-inflacionário funcional, mas sim reduzir ao máximo possível a utilização anti-infl acionária da taxa de juros, sem que o objetivo da estabilidade de preços seja relegado a um segundo plano.
Para tanto, o objetivo da estabilidade de preços deveria ser um objetivo de todos os órgãos públicos. Logo, mais instrumentos estariam disponíveis para este fi m. Se a inflação estivesse sendo causada pelo aumento do feijão ou da soja, seria o Ministério da Agricultura que deveria apresentar um diagnóstico do problema e apontar soluções. Se a inflação estivesse sendo causada pelo aumento de margem de lucro de forma excessiva por parte da indústria automobilística, seria o Ministério da Indústria e Comércio que deveria apresentar um diagnóstico do problema e apresentar soluções. O Banco Central deveria ser o controlador de última instância da inflação, e não o primeiro e único órgão do Governo preocupado com um problema que é amplo, complexo e com muitas especificidades. Deixar somente o Banco Central responsável por tratar da estabilidade de preços é o mesmo que solicitar a um médico clínico geral para solucionar ora um problema do coração, ora um problema de pele, ora um problema do estômago. Manter a inflação sob controle é algo tão importante que deveria haver uma câmara formada por diversos organismos do Governo – inclusive o Banco Central – e dirigida pelo Presidente da República para deliberar sobre o assunto.
A administração fiscal que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada é aquela que busca: i) manter a economia em estado de semiboom permanente, através de uma política de gastos rumo ao pleno emprego; ii) promover justiça social ao estabelecer um sistema tributário progressivo, onde a renda e o patrimônio sejam a base da arrecadação – e o consumo, a produção e o investimento sejam desonerados; iii) equilibrar o orçamento para que o governo tenha nas suas mãos uma política de gastos que possa ser utilizada na sua plenitude, sem restrições orçamentárias importantes; iv) desenvolver mecanismos democráticos de decisão de gastos, assim como desburocratizar os processos de gastos do governo para que o gasto público possa ser feito com melhor qualidade, sem desperdício e com preços menores; e v) desenvolver mecanismos mais simples de arrecadação e fiscalização da arrecadação – que são procedimentos necessários para que a carga tributária tenha o tamanho compatível com a sociedade de bem-estar que se pretende construir.
Essas são linhas gerais de uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil. São linhas que rompem com o Consenso de Washington, que já revelou o seu fracasso histórico. As evidências do fracasso são nítidas. Em primeiro lugar, os países que mais se desenvolveram nas últimas cinco décadas, entre eles Japão, Coréia do Sul e Israel, jamais adotaram políticas macroeconômicas ou reformas estruturais assemelhadas àquelas sugeridas pelos “de cima”, no Consenso de Washington. Em segundo lugar, os 10 países que mais cresceram nos últimos 20 anos sempre mantiveram a devida distância em relação às recomendações vindas dos “de cima”.
Em ordem de média de taxa crescimento, são eles: China, Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan, Vietnã, Malásia, Tailândia, Índia, Hong-Kong e Paquistão. São todos da Ásia, onde as idéias elaboradas em Washington nunca tiveram qualquer penetração. Em terceiro lugar, a Argentina, que foi a melhor “aluna” dos professores de Washington durante os anos 1990 – seguindo os mínimos detalhes das sugestões de políticas públicas, reformas, liberalizações e privatizações – obteve como resultado uma profunda recessão, elevadíssimas taxas de desemprego e jogou mais da metade da sua população na condição de miséria.
Por fim, o Consenso de Washington, segundo seus defensores, expressa a ideia de que existem “fundamentos” econômicos básicos que devem ser perseguidos, sejam em países desenvolvidos, sejam em países em desenvolvimento. Entretanto, os próprios países desenvolvidos para manter o seu estado de desenvolvimento avançado não seguem as recomendações que nos fazem.
*João Sicsú é Doutor em Economia (Instituto de Economia, UFRJ). Diretor de Estudos Macroeconômicos do IPEA e professor licenciado do IE-UFRJ.
Portanto, uma estratégia de desenvolvimento não é um plano de governo detalhado, assim como não deve conter respostas para a lista infindável de questões que afligem a todos os cidadãos brasileiros. Uma estratégia de desenvolvimento deve ser construída no debate com a sociedade a partir de linhas gerais que descrevam: I) o objetivo final -- um país em que questões materiais não sejam barreiras intransponíveis à felicidade; II) a trajetória -- políticas públicas, procedimentos e regras para se formatar e reformatar continuamente um novo país.
O objetivo final de uma estratégia de desenvolvimento deve ser a construção de uma sociedade democrática, tecnologicamente avançada, como emprego e moradia dignos para todos, ambientalmente planejada, com uma justa distribuição da renda e da riqueza, com igualdade plena de oportunidades e com um sistema de seguridade social de máxima qualidade e universal -- cujas partes imprescindíveis devam ser sistemas gratuitos de saúde e educação para todos os níveis e necessidades. O Estado de Bem-Estar Social é o conceito que resume esse conjunto de objetivos. O Estado de Bem-Estar Social é a maior conquista da civilização ocidental ao longo do século XX. Foi a conjugação única de fatores sociais, políticos e econômicos que conformou um ambiente institucional que valoriza a liberdade, a individualidade, o trabalho, a atividade empresarial, a gestão republicana do Estado, a justiça e o bem-estar social. Sua construção teve início principalmente ao final da década de 1940 na Europa ocidental, o palco da sua realização Hoje há um Estado de Bem-Estar Social em diversos países europeus, com destaque para Suécia, Noruega, Finlândia, França, entre outros.
O funcionário do governo inglês William Beveridge foi um dos mais importantes idealizadores da utopia europeia do Ocidente. Ele foi além, muito além, do chanceler Bismark, que havia construído na Alemanha, ao final do século XIX, um sistema de proteção social baseado na atividade do trabalho que relacionava benefícios pagos ao sistema às contribuições efetuadas. Beveridge desconstruiu o modelo de Bismark ao propor um sistema social que não estava baseado exclusivamente na atividade do trabalho, mas, sim, na existência do cidadão. Portanto, um sistema de segurança de vida de todos e para todos -- que ofertaria benefícios a todos. Entretanto, o Estado de Bem-Estar Social é muito mais que o sistema de seguridade social universal beveridgeano. As ideias de universalização do direito ao emprego, de harmonia e complementaridade entre capital e trabalho, de valorização da concorrência e de uma justa distribuição de renda e da riqueza podem ser atribuídas ao economista inglês John Maynard Keynes. O republicanismo e a democracia foram conquistas de origens diversas, mas seu símbolo maior é sem dúvida a Revolução Francesa de 1789 (e diversos fatos que a sucederam), baseada no trinômio liberdade-igualdade-fraternidade.
A implantação de um Estado de Bem-Estar Social no Brasil está longe de ser apenas a tentativa de realização de uma cópia do modelo europeu. O Estado de Bem-Estar Social europeu deve ser visto como uma ''obra aberta'', sua construção no Brasil deve ser uma ''improvisação criadora'' para utilizar os termo de Umberto Eco em seu livro Opera Aperta. É o equilíbrio entre a observação, a interpretação e a criação que devem balizar os limites do que está definido e do que está aberto na obra de arte social europeia. Portanto, ''definitude'' e ''abertura'' de um modelo econômico e social são importantes conceitos de limite que devem ser considerados em um processo de desenvolvimento para o Brasil. Há de singular, de definido, no Estado de Bem-Estar Social implementado na Europa um conjunto específico de pilares que não podem ser reinterpretados ou recriados, tal como o sistema universalista bevedridgeano de seguridade social. A seguridade social universal é o que garante o exercício da individualidade do cidadão sem discriminação, Reinterpretar a seguridade social universal ou recriá-la, neste caso particular, significa transformá-la, e corre-se o risco assim, por exemplo, da criação de um modelo contábil e atuarial de seguridade social que se torna ''foquista'' (somente atendem aos que contribuíram, a la Bismark).
Apesar de se ter clareza dos limites, ou seja, da ''definitude'' e também da ''abertura'' interpretativa e criadora do Estado de Bem-Estar Social europeu, não é possível fora de um movimento concreto de construção de uma estratégia de desenvolvimento do país estabelecer com maior exatidão o desenho de sociedade que se deseja. Ainda numa abordagem inicial, é melhor deixar essa pergunta (que incomoda) despercebida e reproduzir as palavras daquele que soube definir a felicidade em diversas passagens de sua obra. Enfim, o que deseja para o Brasil é um país, como disse Vinícius de Moraes, em que se tenha ''tempo para a peteca e tempo para o soneto. Tempo para trabalhar e para dar tempo ao tempo. Tempo para envelhecer e ficar obsoleto...''
Por mais definida que seja uma estratégia de desenvolvimento, ela estará sempre em construção, seja para aqueles que ainda estão fazendo o vestibular para entrar na rota do desenvolvimento, tal como o Brasil, seja para aqueles que já são desenvolvidos. Uma estratégia de desenvolvimento está sempre em construção, inclusive, nos países mais desenvolvidos do planeta. Verdadeiros gestores de estratégias de desenvolvimento sentem de forma permanente aquilo que Camille Claudel sentia da distância imposta por Auguste Rodin: “há sempre algo de ausente que me atormenta”.
O Estado de bem-estar social foi construído na Europa em um momento histórico muito particular e favorável. Havia uma pressão externa: a ameaça socialista que teve início com a Revolução Russa de 1917 e que se consolidava sobre parte da Europa pelas mãos do exército soviético. Havia pressão interna: as idéias socialistas avançavam na Europa ocidental, através de organizações e partidos com bases populares e operárias. E havia um estado geral de decepção com a qualidade de vida: lamentos e reclamações emanavam de todos os lares. Afinal, o sistema institucional baseado na ideia de que as forças de mercado, com Estado mínimo e/ou ausente, iriam reduzir o desemprego foi derrotado pela realidade: a Europa vivia uma crise de desemprego, desde os anos 1920. Este é um ponto muito importante: saber se existem condições históricas que favorecem a implementação de um novo modelo em um determinado país.
As políticas macroeconômicas formam o pavimento necessário, mais básico, de uma estratégia de desenvolvimento. Políticas macroeconômicas adequadas podem promover o crescimento e a industrialização (tecnologicamente sofisticada), que são os itens mais essenciais da cesta do futuro de bem-estar social. O crescimento e a industrialização estão muito longe de ser tudo, mas sem eles nada haverá. Políticas são ações conscientes e planejadas. No caso de políticas macroeconômicas, são ações planejadas por governantes de Estado, que utilizam os três caminhos clássicos disponíveis: a política cambial, a política monetária e a administração fiscal. Pode-se argumentar que a intervenção estatal foi correta apenas no passado, porque os investimentos exigiam montantes que a iniciativa privada era incapaz de mobilizar, dada a atrofia dos mercados de capitais ou ainda porque faltava informação correta para que os empresários soubessem onde investir, com maior certeza de lucratividade. Está é uma visão incorreta da relação entre Estado e mercado, tanto do ponto vista teórico quanto histórico.
A necessidade de o Estado participar ativamente da vida econômica de uma sociedade não está relacionada às especificidades de certo período histórico ou a alguma falha do sistema capitalista, que pode ser corrigida. Uma abordagem teórica simples é capaz de mostrar a necessidade do Estado ativo para que a economia possa prover um ambiente de bem-estar social e dinamismo nos mercados. O ponto central é que as ações (que são racionais) da iniciativa privada são pró-cíclicas – tendem a agravar situações.Turbulências econômicas são da natureza do sistema, surgem no seu interior e de forma repentina, mesmo em tempos de céu de brigadeiro. E tais turbulências tendem a se transformar em crises, quando não há a intervenção anticíclica do Estado. Situações de crise ou de semi-estagnação podem permanecer por tempos indefinidos, porque não existem mecanismos de correção automática. Não se trata de ter paciência para esperar. Ainda que este fosse o caso, o custo social do tempo de espera seria alto demais.
Uma abordagem da realidade é capaz de provar esta inseparabilidade entre Estado e mercado, para que se possa promover uma vida em sociedade com felicidade. A chamada “época de ouro” do crescimento econômico e do desenvolvimento social, principalmente na Europa, foi no período de maior interação entre a sociedade organizada, os empresários e os governos – o que ocorreu no final dos anos 1940 até o final dos anos 1960. A alta inflação no Brasil permaneceu por décadas, até que houvesse um Plano de Governo anti-inflacionário, no ano de 1994. Embora sujeitas a controvérsias, as intervenções do Fundo Monetário Internacional (FMI) são feitas por um agente externo à economia quando o Estado, através de seus governantes, já esgotou as suas forças; as intervenções do FMI são a maior prova de que sem Estado, ou quando ele é impotente, é preciso se realizar uma super-intervenção que vem de fora para recolocar preços macroeconômicos de volta em determinada posição.
É também parte constituinte de uma estratégia de desenvolvimento a ideia de que o governo deve implementar políticas macroeconômicas capazes de gerar a sensação de segurança para que empresários se sintam estimulados a empreender grandes investimentos, que sejam lucrativos e geradores de renda e empregos. O governo deve também fazer aquilo que a iniciativa privada não faz. Em essência, os preços estratégicos macroeconômicos de uma economia devem favorecer o investimento, a geração de renda e de empregos. Sob estas condições favoráveis, se as forças de mercados não realizarem os investimentos necessários, deve entrar em campo a mão visível do Estado realizando o investimento. Em princípio, o Estado não faz melhor ou pior que a iniciativa privada, ele é necessário para fazer o que ela não faz, e deve fazê-lo bem.
É mera falácia que a iniciativa privada é mais capaz por definição que o setor público para gerenciar grandes atividades econômicas. Muitos concordam com esta afirmação, afinal são inúmeros os impérios econômicos empresarias e financeiros que já ruíram, assim como existem grandes e sólidos negócios gerenciados pelo setor público, mundo afora. Mas alguns têm argumentos mais sofisticados. Argumentam que a preferência pelos negócios privados se sustenta porque quando uma empresa privada é improdutiva ou quebra quem paga a conta é o empresário. E que impropriedades no setor público são pagas pelo contribuinte. Ledo engano: sempre é o cidadão quem paga a conta. No caso do setor público, pagam-se os “problemas” com mais impostos e, no caso do setor privado, os “problemas” são pagos com preços mais elevados.
As políticas macroeconômicas devem favorecer o investimento visando à geração de empregos, renda e à industrialização. Deve-se buscar, através de diversos mecanismos, a industrialização em segmentos densos de tecnologia. A busca incessante por um modelo de industrialização sofisticada (eletrodomésticos, automóveis etc.) possui um aspecto essencial. A especialização na produção de commodities e a industrialização que gera baixo valor agregado (um modelo de economia primarizada) constituem um modelo bastante propício para a consolidação de um esquema concentrador de renda e de riqueza. O modelo primarizado gera altos lucros, empregos com baixa remuneração e ocupações não formalizadas, de acordo com a legislação trabalhista. O modelo de economia industrializada gera muitos empregos, de remuneração mais elevada e favorece o estabelecimento de relações formais de trabalho. Esta é uma opção crucial: primarização ou industrialização sofisticada?
A política cambial que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada é aquela capaz de estabelecer um taxa de câmbio competitiva para a produção e a exportação de bens manufaturados. Uma taxa cambial neste patamar, por um lado, favorece a realização de mega-superávits comerciais e, portanto, o acúmulo de reservas não-voláteis e, por outro, é uma proteção contra crises cambiais de desvalorização abrupta, pelo simples fato de que uma taxa desvalorizada tem uma chance menor de se desvalorizar (ainda mais) do que uma taxa valorizada. Uma política de administração cambial – de uma taxa que deve ser flutuante – em que o Banco Central compra e vende reservas, realizando um verdadeiro processo de sintonia fi na, é capaz não só de manter a taxa de câmbio em patamar competitivo para as exportações de manufaturados, mas também é capaz de reduzir a sua volatilidade – reduzindo, em decorrência, a atividade especulativa no mercado de moeda estrangeira.
A defesa do equilíbrio externo requer atenção não somente com a balança comercial, mas também com a conta de investimentos financeiros internacionais. Capitais financeiros que têm por finalidade financiar o investimento e a produção são bem-vindos, sejam eles domésticos ou estrangeiros. Capitais financeiros que tem o mero objetivo de sua capitalização, sem que este processo traga benefícios à produção ou ao investimento, não são bem-vindos. Estes capitais somente provocam pressão valorizativa sobre o câmbio, no momento da sua entrada, e pressão desvalorizativa, no momento da sua saída: nada mais. O movimento dos capitais financeiros que busca apenas a sua capitalização através de movimentos especulativos e de arbitragem deve ser desestimulado. A primeira e principal medida neste campo é o estabelecimento de uma taxa de juros básica da economia, em patamar semelhante aos juros americanos. Uma taxa de juros muito elevada em relação à taxa de juros americana é maléfica para a economia, em pelo menos três aspectos: i) atrai capitais financeiros especulativos para o país; ii) eleva demasiadamente o custo de carregamento de reservas por parte do Banco Central; e iii) desestimula o investimento produtivo. Se uma taxa de juros relativamente baixa não for capaz de evitar os males dos movimentos especulativos dos capitais, outras medidas devem ser adotadas. Por exemplo, a cobrança de impostos sobre a movimentação financeira internacional ou outras medidas administrativas a serem definidas.
A política monetária que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada é aquela que é totalmente consistente com a política cambial descrita. Não se pode determinar uma política monetária independentemente da política cambial (e vice-versa), ainda que o regime de câmbio seja flutuante, porque um regime de altas taxas de juros está necessariamente associado a um regime de câmbio valorizado. Esta é uma conhecida gangorra da macroeconomia. Uma política monetária de taxas de juros baixos é consistente, portanto, com uma política cambial de taxa competitiva. Como dito, uma política de taxas de juros elevadas determina uma taxa de câmbio valorizada e impõe custos elevadíssimos de carregamento de reservas ao setor público, que recebe a taxa de juros americana e paga a taxa de juros doméstica por cada dólar retido no Banco Central.
A taxa de juros é fundamental para manter o equilíbrio externo: transações com o exterior financiadas e blindagem contra movimentos de capitais financeiros que são maléficos. Mas é também fundamental para manter o equilíbrio interno: alto crescimento com infl ação baixa. Nesse sentido, uma nova concepção deveria governar a determinação da taxa de juros. Todo poupador cujos recursos não fi nanciam algum tipo de gasto doméstico (consumo ou investimento) é um gerador de desemprego. Quanto maior a taxa de juros maior é o estímulo para a poupança e, portanto, maior é o desemprego causado pelo poupador. Logo, a taxa de juros deveria ser pensada como um instrumento capaz de punir aqueles que não querem gastar, ou seja, como um instrumento que pune o gerador de desemprego. Portanto, a taxa de juros deveria ser sempre baixa, muito baixa.
A taxa de juros, por ser um instrumento capaz de controlar a demanda agregada, já se mostrou plenamente eficaz para o controle da inflação. Contudo, é preciso entender que sua funcionalidade depende de sua perversidade, isto é, gerar desemprego – para que haja uma redução de demanda relativamente à oferta, o que inibe o reajuste de preços. Mas como a economia de bem-estar que se deseja construir é uma economia de emprego para todos, estabelece-se aqui um trade-off: de um lado, um instrumento anti-inflacionário funcional que gera desemprego; e, de outro, a obrigação estratégica permanente de gerar mais empregos. A alternativa não pode ser abandonar a taxa de juros, um instrumento anti-inflacionário funcional, mas sim reduzir ao máximo possível a utilização anti-infl acionária da taxa de juros, sem que o objetivo da estabilidade de preços seja relegado a um segundo plano.
Para tanto, o objetivo da estabilidade de preços deveria ser um objetivo de todos os órgãos públicos. Logo, mais instrumentos estariam disponíveis para este fi m. Se a inflação estivesse sendo causada pelo aumento do feijão ou da soja, seria o Ministério da Agricultura que deveria apresentar um diagnóstico do problema e apontar soluções. Se a inflação estivesse sendo causada pelo aumento de margem de lucro de forma excessiva por parte da indústria automobilística, seria o Ministério da Indústria e Comércio que deveria apresentar um diagnóstico do problema e apresentar soluções. O Banco Central deveria ser o controlador de última instância da inflação, e não o primeiro e único órgão do Governo preocupado com um problema que é amplo, complexo e com muitas especificidades. Deixar somente o Banco Central responsável por tratar da estabilidade de preços é o mesmo que solicitar a um médico clínico geral para solucionar ora um problema do coração, ora um problema de pele, ora um problema do estômago. Manter a inflação sob controle é algo tão importante que deveria haver uma câmara formada por diversos organismos do Governo – inclusive o Banco Central – e dirigida pelo Presidente da República para deliberar sobre o assunto.
A administração fiscal que favorece o investimento e a industrialização mais sofisticada é aquela que busca: i) manter a economia em estado de semiboom permanente, através de uma política de gastos rumo ao pleno emprego; ii) promover justiça social ao estabelecer um sistema tributário progressivo, onde a renda e o patrimônio sejam a base da arrecadação – e o consumo, a produção e o investimento sejam desonerados; iii) equilibrar o orçamento para que o governo tenha nas suas mãos uma política de gastos que possa ser utilizada na sua plenitude, sem restrições orçamentárias importantes; iv) desenvolver mecanismos democráticos de decisão de gastos, assim como desburocratizar os processos de gastos do governo para que o gasto público possa ser feito com melhor qualidade, sem desperdício e com preços menores; e v) desenvolver mecanismos mais simples de arrecadação e fiscalização da arrecadação – que são procedimentos necessários para que a carga tributária tenha o tamanho compatível com a sociedade de bem-estar que se pretende construir.
Essas são linhas gerais de uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil. São linhas que rompem com o Consenso de Washington, que já revelou o seu fracasso histórico. As evidências do fracasso são nítidas. Em primeiro lugar, os países que mais se desenvolveram nas últimas cinco décadas, entre eles Japão, Coréia do Sul e Israel, jamais adotaram políticas macroeconômicas ou reformas estruturais assemelhadas àquelas sugeridas pelos “de cima”, no Consenso de Washington. Em segundo lugar, os 10 países que mais cresceram nos últimos 20 anos sempre mantiveram a devida distância em relação às recomendações vindas dos “de cima”.
Em ordem de média de taxa crescimento, são eles: China, Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan, Vietnã, Malásia, Tailândia, Índia, Hong-Kong e Paquistão. São todos da Ásia, onde as idéias elaboradas em Washington nunca tiveram qualquer penetração. Em terceiro lugar, a Argentina, que foi a melhor “aluna” dos professores de Washington durante os anos 1990 – seguindo os mínimos detalhes das sugestões de políticas públicas, reformas, liberalizações e privatizações – obteve como resultado uma profunda recessão, elevadíssimas taxas de desemprego e jogou mais da metade da sua população na condição de miséria.
Por fim, o Consenso de Washington, segundo seus defensores, expressa a ideia de que existem “fundamentos” econômicos básicos que devem ser perseguidos, sejam em países desenvolvidos, sejam em países em desenvolvimento. Entretanto, os próprios países desenvolvidos para manter o seu estado de desenvolvimento avançado não seguem as recomendações que nos fazem.
*João Sicsú é Doutor em Economia (Instituto de Economia, UFRJ). Diretor de Estudos Macroeconômicos do IPEA e professor licenciado do IE-UFRJ.