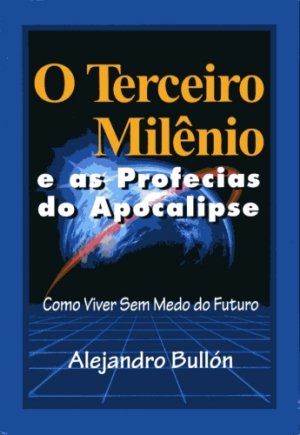Nas eleições presidenciais de 2014, uma fala do governador do estado do Piauí, Wellington Dias, em defesa da candidatura de Dilma Roussef me chamou bastante a atenção; ele dizia algo como ''é preciso que Dilma seja reeleita para que o país possa continuar indo bem tanto na economia quanto no social''. ''Tanto na economia quanto no social''... essa sentença me pareceu paradoxal, em virtude do fato de que a atividade econômica é, evidentemente, uma atividade social, uma atividade entre pessoas, mas, ao mesmo tempo, profundamente realista. Não é verdade que um país pode crescer economicamente a taxas altíssimas ao mesmo tempo em que sua população sofre com péssimas condições de trabalho, moradia e lazer, longuíssimas jornadas de trabalho, etc? Já não nos dizia Marx que a Holanda estava, em 1648, no seu apogeu comercial, e ao mesmo tempo possuía a população mais pobre, brutalmente oprimida e sobrecarregada de trabalho de toda a Europa?¹
Há uma espécie de 'cisão' entra a produção das coisas necessárias e úteis às nossas vidas e as nossas necessidades. Não se produz para satisfazer necessidades humanas, mas simplesmente para obter dinheiro; o conteúdo da produção está submetido à forma de transformação de dinheiro em mais dinheiro, de valor em mais valor; o que chamamos de acumulação de capital. Isso se dá porque a sociedade está organizada sob a forma de mercado -- isto é, a produção, ao invés de coletivamente decidida e racionalmente organizada (como, por exemplo, numa aldeia), é realizada por produtores individuais formalmente independentes uns dos outros, que produzem para trocar seus produtos por outros produtos (ou seja, produzem mercadorias) -- daí desejarem obter o máximo possível da mercadoria que se converte em qualquer outra mercadoria (o que Marx chamou de ''equivalente geral''), o dinheiro. Se a produção não retornar um mínimo desejado de dinheiro -- em outras palavras, se não for ''rentável'' do ponto de vista do capitalista --, ela simplesmente não será realizada, de maneira que não só quem desejava aquele bem ou serviço ficará de mãos abanando como aqueles que não têm terras, máquinas ou outros ''meios de produção'' que lhes permitam produzir meios de subsistência ou mercadorias, mas unicamente suas forças de trabalho para vender (ou seja, que dependem de salários para sobreviver), ficarão sem emprego, sem salários e, portanto, potencialmente excluídos do processo de reprodução social. Esta é uma condição que, a bem da verdade, já afeta milhões, bilhões de pessoas ao redor de todo o mundo -- nós as vemos aos montes nas favelas, debaixo de pontes, em países africanos há muito imersos num caos de conflitos armados entre milícias etc.
Compartilho abaixo um texto de Anselm Jappe, cuja referência será posta mais abaixo, no qual ele expõe o essencial da crítica de Marx a esta ''economia desvinculada'' da sociedade humana, autonomizada -- verdadeira máquina que já se descolou de qualquer satisfação obrigatória das necessidades de boa parte da humanidade e que nos levará (ainda mais) à barbárie, se não for substituída por um planejamento coletivo e racional da produção -- no que, por fim, deixará de ser ''economia'', um sistema-fetiche regido por leis de certa maneira independentes das vontades dos indivíduos.
(2) MEW 23/96, nota 33; Le Capital I, pág. 94; O Capital 1-1, págs. 97-98.
(3) Para Marx, o aspecto paradoxal do capitalismo reside precisamente no facto de o capitalismo, apesar de toda a dominação técnica da natureza, se apresentar sempre aos homens sob a forma de «leis naturais omnipotentes, expressão de uma dominação fatal» (MEW 25/839; Le Capital III, pág. 865; O Capital 111-2, pág. 280), que «escapa cada vez mais ao seu controlo» (MEW 25/255; Le Capital III, pág. 261; O Capital III-1, pág. 185).
(4) MEW 23/93, Le Capital I, pág. 90; O Capital l-l, pág. 95.
(5) MEW 23/649, Le Capital I, pág. 696; O Capital 1-3, pág. 707.
Referências:
[1] O Capital: crítica da economia política, livro primeiro, capítulo XXIV.
[2] JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: por uma nova crítica do valor. Lisboa: Antígona, 2006.
Há uma espécie de 'cisão' entra a produção das coisas necessárias e úteis às nossas vidas e as nossas necessidades. Não se produz para satisfazer necessidades humanas, mas simplesmente para obter dinheiro; o conteúdo da produção está submetido à forma de transformação de dinheiro em mais dinheiro, de valor em mais valor; o que chamamos de acumulação de capital. Isso se dá porque a sociedade está organizada sob a forma de mercado -- isto é, a produção, ao invés de coletivamente decidida e racionalmente organizada (como, por exemplo, numa aldeia), é realizada por produtores individuais formalmente independentes uns dos outros, que produzem para trocar seus produtos por outros produtos (ou seja, produzem mercadorias) -- daí desejarem obter o máximo possível da mercadoria que se converte em qualquer outra mercadoria (o que Marx chamou de ''equivalente geral''), o dinheiro. Se a produção não retornar um mínimo desejado de dinheiro -- em outras palavras, se não for ''rentável'' do ponto de vista do capitalista --, ela simplesmente não será realizada, de maneira que não só quem desejava aquele bem ou serviço ficará de mãos abanando como aqueles que não têm terras, máquinas ou outros ''meios de produção'' que lhes permitam produzir meios de subsistência ou mercadorias, mas unicamente suas forças de trabalho para vender (ou seja, que dependem de salários para sobreviver), ficarão sem emprego, sem salários e, portanto, potencialmente excluídos do processo de reprodução social. Esta é uma condição que, a bem da verdade, já afeta milhões, bilhões de pessoas ao redor de todo o mundo -- nós as vemos aos montes nas favelas, debaixo de pontes, em países africanos há muito imersos num caos de conflitos armados entre milícias etc.
Compartilho abaixo um texto de Anselm Jappe, cuja referência será posta mais abaixo, no qual ele expõe o essencial da crítica de Marx a esta ''economia desvinculada'' da sociedade humana, autonomizada -- verdadeira máquina que já se descolou de qualquer satisfação obrigatória das necessidades de boa parte da humanidade e que nos levará (ainda mais) à barbárie, se não for substituída por um planejamento coletivo e racional da produção -- no que, por fim, deixará de ser ''economia'', um sistema-fetiche regido por leis de certa maneira independentes das vontades dos indivíduos.
Crítica da economia em geral
A «crítica da economia política» de Marx não é apenas uma crítica das doutrinas económicas burguesas, antes constitui também uma crítica da existência da «economia» enquanto tal. Marx nunca usa o termo «economia» com uma significação positiva; nunca qualifica a sua teoria como «doutrina económica» ou algo de semelhante (1). À primeira vista pode parecer que isto entra em contradição com o facto de se pensar que a teoria marxiana se baseia precisamente nessa categoria. Os representantes do «materialismo histórico» sempre repetiram que o ser material determina a consciência e que a «economia» é a «base» de todos os outros aspectos da vida social. Proclamaram esta subordinação dos homens aos seus próprios produtos como uma verdade corajosa que é necessário pôr em relevo contra a transfiguração idealista burguesa da realidade. Porém, a inversão da relação entre meios e fins é característica da sociedade capitalista, na qual o conteúdo se subordina à forma. Não faz sentido transformar este facto negativo, que representa um estado de alienação, porque nessa situação o carácter social não tem consciência de si mesmo, num facto positivo. Marx analisa o capitalismo através do trabalho e da economia, mas ao fazê-lo não está a falar da sociedade humana em geral. É certo que sublinha o facto de mesmo as sociedades pré-capitalistas terem que começar sempre por assegurar a satisfação das suas necessidades vitais, e sublinha também que a maneira como o faziam determinava as outras formas sociais (2). Mas com isso Marx não pretende dizer que se trate de um dado ontológico e sempre válido, se a satisfação das necessidades assume a forma de uma esfera separada, a «economia», com regras próprias que essa esfera impõe a todas as outras esferas sociais. Se abstrairmos do facto banal de que os homens têm antes de mais que comer, vestir-se, etc., a prevalência da «economia», mesmo no sentido mais amplo, torna-se algo de muito pouco evidente nas sociedades pré-capitalistas. Em inúmeras circunstâncias, são outros critérios que prevalecem sobre os critérios «económicos»; como exemplos, podemos citar as festividades tradicionais, a dissipação de bens levada a cabo pelos nobres e as ocasiões, frequentes na história, em que uma sociedade renunciou a introduzir invenções técnicas com as quais se poderia ter economizado trabalho. O «materialismo histórico» - cuja codificação não é a obra de Marx - só é apropriado como análise do capitalismo: no capitalismo, a produção material não constitui somente a base da sociedade (o que acontece sempre), antes constitui também o principio organizador autonomizado da sociedade, o seu principio de síntese social.
E toda a distinção entre «base» e «superestrutura», o eixo do materialismo histórico, que, do ponto de vista da crítica do valor, revela ser pouco útil, sobretudo relativamente às realidades não capitalistas. O marxismo tradicional tentou muitas vezes mitigar a rigidez dessa distinção com a ideia de uma «acção recíproca» entre a base económica e a superestrutura cultural, jurídica, religiosa, etc. A acção recíproca pressupõe contudo a existência de factores separados que seria necessário reunir a posteriori e externamente. Parece então muito mais prometedor explorar a «forma total» e explicar o nascimento simultáneo, num contexto determinado, do sujeito e do objecto, da base e da superestrutura, do ser e do pensamento, da praxis material e ¡material. É preciso que nos interroguemos sobre a praxis social que se cindiu nesses dois pólos. Quanto mais se recua na história, menos sentido faz querer distinguir entre factores «materiais» e factores «ideais». O «potlatch», por exemplo, a que voltaremos no capítulo seguinte, era simultaneamente uma forma de circulação dos produtos, uma forma de fixar e de confirmar a hierarquia social, um ritual religioso, um jogo, etc. A separação entre a «utilidade» e os outros factores era desconhecida nesse contexto, e nele não é possível reconhecer uma esfera autónoma que fosse a da «economia». A «economia», baseada no «valor», é a forma moderna do fetichismo. Todas as sociedades se baseiam na apropriação da natureza, mas essa circunstância não faz ainda a «economia». Esta apropriação passa sempre por um processo de codificação simbólica pressuposto e inconsciente, que pode ser num caso a religião e noutro o valor. Na sociedade moderna, o valor é ao mesmo tempo a forma do pensamento e da acção, sem que possa deduzir-se o primeiro da segunda ou vice-versa.
A história é afinal sobretudo uma história de fetichismos, e não tanto história da luta de classes. A luta entre as classes, enquanto estrutura dinâmica, só pode existir no capitalismo, uma vez que os antagonismos sociais das sociedades precedentes eram em grande medida estáticos. Só o valor dinamiza os antagonismos sociais, transformando-os em lutas de classes. O parentesco de sangue, o totemismo, a propriedade do solo e o valor podem ser considerados como etapas do processo por via do qual o homem se separa da natureza, tornando-se um sujeito relativamente consciente face à natureza primeira, mas não ainda face à segunda natureza, que é a sua própria conexão social criada por ele mesmo (3). Todas essas sociedades se baseiam numa constituição inconsciente. Relativamente a elas, a teoria estruturalista e a teoria dos sistemas teriam parcialmente razão, se não considerassem essa ausência de um sujeito humano como uma constante intemporal. O sujeito existe: mas actualmente não é o homem que é sujeito, mas sim o seu produto. O sujeito humano não é uma ficção, mas até agora também nunca existiu em forma completa. O sujeito humano está em devir. Não é necessário recorrer a teorias da manipulação para explicar como as classes no poder puderam impor durante milhares de anos à maioria dos homens um sistema de exploração: são as relações fetichistas que até hoje criaram as relações de produção e com elas as correspondentes formas de consciência. Rebatemos já várias vezes a asserção segundo a qual «por trás» das relações fetichistas das coisas se encontrariam «na verdade» relações humanas. Poder-nos-iam objectar que a critica marxiana do fetichismo significa precisamente desvelar a falsidade da aparência de um automovimento das coisas (económicas). Qual então o sentido da nossa crítica da interpretação habitual do fetichismo? Decerto que em última análise os homens são os criadores dos seus produtos. «Por trás» da mercadoria, enquanto forma fetichizada, encontra-se, no plano material, o homem - contudo, não o homem como sujeito consciente, o homem que controla o seu próprio carácter social, mas sim o homem fetichista. O criador do fetichismo é um homem que só é sujeito em relação à natureza, mas não no que respeita à sua própria sociabilidade. É por isso que é preciso conceber a teoria do fetichismo como teoria do nascimento histórico do sujeito e do objecto em formas alienadas desde o início. Ultrapassar o fetichismo não pode, pois, significar a restituição dos predicados a um sujeito que já existisse em si e cuja essência houvesse sido alienada. Significa, pelo contrário, criar o sujeito consciente e não fetichista e proceder à apropriação de uma parte daquilo que até agora foi produzido sob forma fetichista. O fetichismo «ultrapassável» consiste na existência da mercadoria e do valor; e enquanto a mercadoria e o valor existirem, o homem será efectivamente dominado pelos seus próprios produtos.
Pode assim imaginar-se um programa de investigação materialista e crítica que analise a história enquanto história dos fetichismos, na qual se entrelaçam sempre factores «materiais» e «ideais» (ou «simbólicos»), No fundo, Marx faz algo de semelhante quando concebe a sua critica do valor fetiche como uma continuação directa da crítica da religião e ao sublinhar várias vezes as semelhanças entre as duas estruturas que se baseiam sempre na «inversão». Fá-lo nas suas notas de juventude sobre Mill, já citadas, bem como na passagem do Capital em que diz que «o Cristianismo, com o seu culto do homem abstracto, designadamente no seu desenvolvimento burguês, o protestantismo, o Deísmo, etc., [é] a forma religiosa mais correspondente» em relação a «uma sociedade de produtores de mercadorias» (4). Numa outra passagem Marx escreve; «Não pode ser de outra maneira, num modo de produção em que o trabalhador existe para as necessidades de valorização dos valores existentes, em vez de pelo contrário ser a riqueza material a existir para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador. Da mesma maneira que na religião é dominado por uma fabricação da sua própria cabeça, também na produção capitalista é dominado por uma fabricação da sua própria mão.» (5)
(1) Facto que não impediu muitos marxistas de restabelecerem o uso positivo do termo «economia». Mas passa-se completamente ao lado da questão quando se escreve um Tratado de economia marxista (E. Mandei), quando se dá a designação de «Economia» a uma secção da edição francesa das obras de Marx (M. Rubel) ou ao proceder como K. Korsch que divide o seu livro Karl Marx em partes intituladas «A sociedade burguesa», «A economia política» e «A história». História e consciência de classe, de Lukács, representa uma excepção parcial: «Esta “economia” [futura, socialista] já não tem contudo a função que até então haviam tido todas as economias; ela deverá ser serva da sociedade conscientemente dirigida; deverá perder a sua imanência, a sua autonomia, que dela faziam propriamente uma economia; deverá ser suprimida enquanto economia» (Lukács, Qeschichte, págs. 396-397; Histoire, pág. 289). Infelizmente esta ideia notável acabou por não passar de uma intuição isolada, mesmo na obra do próprio Lukács. De qualquer modo, História e consciência de classe pôs em relevo o carácter histórico da categoria da economia: «Pelo contrário, nas sociedades pré-capitalistas as formas jurídicas têm necessariamente que intervir de maneira constitutiva nas conexões económicas. Não há aqui categorias puramente económicas [...] que surjam em formas jurídicas [...]. Antes sucede que as categorias económicas e jurídicas se encontram, pelo seu conteúdo, efectivamente entrelaçadas umas com as outras [...]. A economia, dizendo em termos hegelianos, também não atingiu objectivamente o nível do ser-para-si [...]. Nos tempos pré-capitalistas, as classes só podem ser isoladas na realidade histórica imediatamente dada por intermédio da interpretação da história operada pelo materialismo histórico» (Lukács, Qeschichte, págs. 135-137; Histoire, págs. 80-82).
(2) MEW 23/96, nota 33; Le Capital I, pág. 94; O Capital 1-1, págs. 97-98.
(3) Para Marx, o aspecto paradoxal do capitalismo reside precisamente no facto de o capitalismo, apesar de toda a dominação técnica da natureza, se apresentar sempre aos homens sob a forma de «leis naturais omnipotentes, expressão de uma dominação fatal» (MEW 25/839; Le Capital III, pág. 865; O Capital 111-2, pág. 280), que «escapa cada vez mais ao seu controlo» (MEW 25/255; Le Capital III, pág. 261; O Capital III-1, pág. 185).
(4) MEW 23/93, Le Capital I, pág. 90; O Capital l-l, pág. 95.
(5) MEW 23/649, Le Capital I, pág. 696; O Capital 1-3, pág. 707.
Referências:
[1] O Capital: crítica da economia política, livro primeiro, capítulo XXIV.
[2] JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: por uma nova crítica do valor. Lisboa: Antígona, 2006.