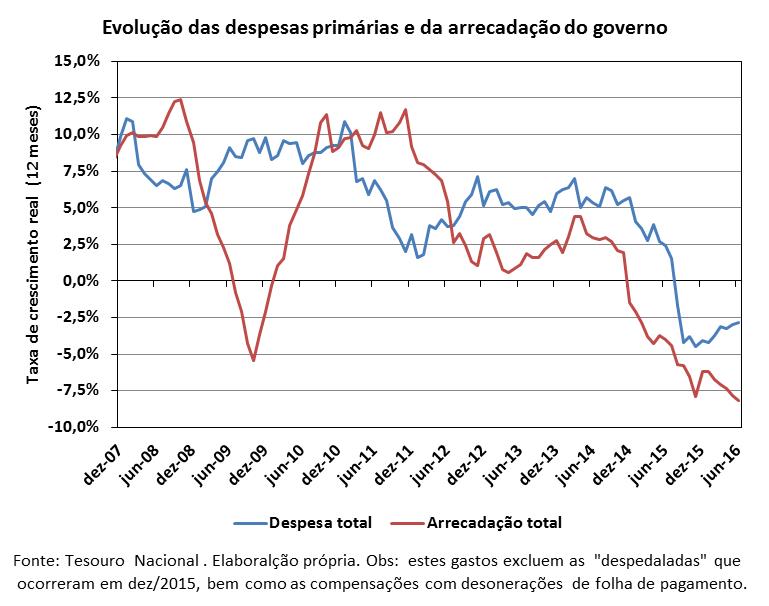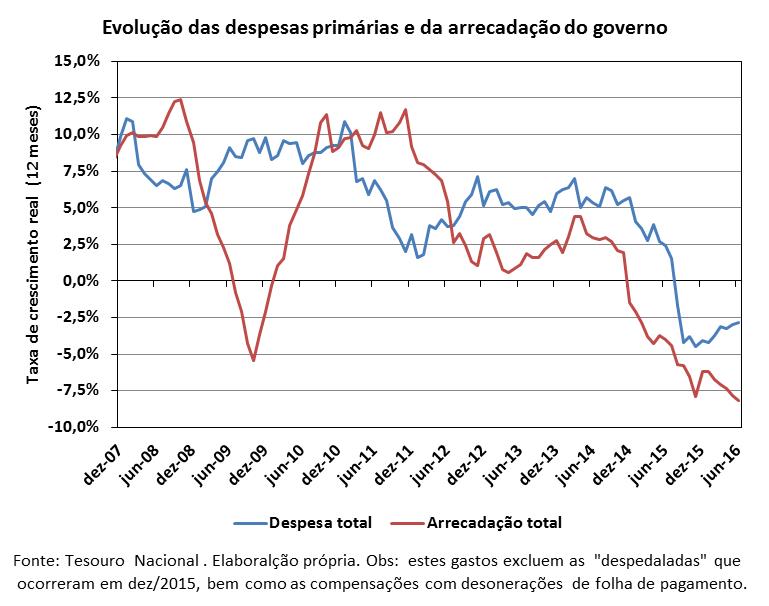O texto abaixo corresponde a uma seção -- intitulada ''Ricardo e Marx'' -- do capítulo 2 de ''Tempo, trabalho e dominação social'' (São Paulo: Boitempo, 2014), de Moishe Postone. Espero que gostem da leitura!
Em Political Economy and Capitalism, Maurice Dobb oferece uma definição da lei
de valor semelhante à dada por [Paul Marlor] Sweezy:
A lei de valor era um princípio de relações de troca entre mercadorias, inclusive
a força de trabalho. Era simultaneamente um determinante do modo em que o
trabalho era alocado entre diferentes indústrias na divisão social geral do trabalho
e da distribuição de produtos entre as classes. [1]
Ao interpretar valor como categoria de mercado, Dobb caracteriza o capitalismo
essencialmente como um sistema de regulação social não consciente. A lei do valor, de
acordo com Dobb, indica que “um sistema de produção e troca de mercadorias pode operar por si só, sem regulação coletiva nem propósito único” [2] . Ele descreve a operação
desse modo “automático” de distribuição com referência às teorias da economia política
clássica [3]: a lei de valor mostra que “essa disposição da força de trabalho social não era
arbitrária, mas seguia uma lei determinada de custo em virtude da ‘mão invisível’ de
forças competitivas de Adam Smith” [4]. A formulação de Dobb deixa explícito o que
está implícito nas interpretações da lei do valor de Marx — o fato de essa lei ser basicamente
semelhante à “mão invisível” de Adam Smith. A questão é, entretanto, se as
duas podem realmente ser identificadas. Dito de forma mais geral: qual é a diferença
entre a economia política clássica e a crítica de Marx da economia política?
Os economistas clássicos, de acordo com Dobb, “ao demonstrar as leis do laissez-faire ofereceram uma crítica das ordens anteriores da sociedade; mas não ofereceram
uma crítica histórica do próprio capitalismo” [5]. Esta última tarefa foi a contribuição
de Marx [6]. Tal como está, há pouco a objetar na declaração de Dobb. Entretanto, é
necessário especificar o que Dobb quer dizer com a crítica social em geral e a crítica
do capitalismo em particular.
De acordo com Dobb, o elemento crítico fundamental da economia política era
indicar que a regulação da sociedade pelo Estado, apesar de considerada essencial
sob o mercantilismo, era desnecessária [7]. Ademais, ao mostrar que as relações que
controlam o comportamento dos valores de troca são relações entre pessoas na condição
de produtores, a economia tornou-se primariamente uma teoria da produção [8].
Ela implicava que uma classe consumidora, que não tinha nenhuma relação ativa
com a produção de mercadorias, não desempenhava papel econômico positivo na
sociedade [28/9]. Assim, os ricardianos, por exemplo, podiam usar a teoria para atacar os
interesses vinculados à terra pois, na visão deles, os únicos fatores ativos na produção
são o trabalho e o capital - mas não a renda agrária [10]. Em outras palavras, a noção de
Dobb de crítica social é uma crítica de agrupamentos sociais não produtivos do ponto
de vista da produtividade.
A crítica histórica do capitalismo de Marx, de acordo com Dobb, envolveu a tomada
de uma teoria clássica do valor e, refinando-a, aplicou contra a burguesia. Marx,
afirma, foi além dos ricardianos ao mostrar que o lucro não podia ser explicado com
referência a nenhuma propriedade intrínseca do capital, e que somente o trabalho era
produtivo [11]. No centro do argumento de Marx está o conceito de mais-valor. Ele partiu
de uma análise da estrutura de classes da sociedade capitalista - em que os membros de
uma classe numerosa não têm propriedade e são forçados a vender sua força de trabalho
para sobreviver — e em seguida mostrou que o valor da força de trabalho como mercadoria
(a quantidade necessária para sua reprodução) é menor que o valor produzido
pelo trabalho em ação [12]. A diferença entre os dois constitui o mais-valor apropriado
pelos capitalistas.
Ao localizar a diferença entre a análise de Marx e economia política clássica na
teoria do mais-valor, Dobb admite que as duas têm em comum teorias substancialmente
idênticas do valor e da lei do valor. Assim, ele afirma que Marx “tomou posse”
da teoria de valor da economia política [32/13] e a desenvolveu mostrando que o lucro é
função apenas do trabalho [14]. Consequentemente, “a diferença essencial entre Marx e
a economia política clássica estava [...] na teoria do mais-valor” [15]. De acordo com essa
interpretação muito comum, “a teoria de valor de Marx é uma versão mais refinada
e consistente da teoria de valor do trabalho de Ricardo” [16]. Portanto, sua lei de valor
tem também uma função semelhante - explicar a operação do modo laissez-faire de
distribuição em termos do trabalho. Entretanto, o próprio Dobb mostra que embora
a categoria de valor e a lei do valor desenvolvida pela economia política clássica
ofereçam uma crítica das ordens anteriores da sociedade, elas não oferecem sozinhas
a base de uma crítica histórica do capitalismo [36/17]. Então, a implicação dessa posição é
que a crítica de Marx do capitalismo ainda não é expressa pelas categorias com que
ele começou sua crítica da economia política — categorias como mercadoria, trabalho abstrato e valor são desenvolvidas no nível lógico inicial da sua análise [18]. Pelo contrário, esse nível da sua análise é implicitamente tomado como prefácio de uma crítica;
presumivelmente, ele apenas prepara o terreno para a “crítica real”, que começa pela
introdução da categoria mais-valor [19].
A questão de se as categorias iniciais da análise marxiana expressam uma crítica
do capitalismo está relacionada à questão de se elas fundamentarem teoricamente a
característica dinâmica histórica daquela sociedade [20]. De acordo com Oskar Lange, por
exemplo, a superioridade real da economia marxiana está “no campo da explicação e
antecipação de um processo de evolução econômica” [21]. Ainda assim, partindo de uma
interpretação da lei de valor semelhante a de Dobb e Sweezy, Lange argumenta que
“o significado econômico da teoria do valor-trabalho [...] nada mais é que uma teoria
estática do equilíbrio econômico” [22]. Como tal, ela só é realmente aplicável à economia
de trocas pré-capitalista de pequenos produtores independentes e não é capaz de explicar
o desenvolvimento capitalista [23]. A base real da análise de Marx sobre a dinâmica do
capitalismo, de acordo com Lange, é um dado institucional: a divisão da população
em uma classe que possui os meios de produção, e uma classe que só possui a sua força
de trabalho [24]. E por essa razão que o lucro capitalista só pode existir numa economia
progressista [25]. O progresso técnico resulta das necessidades dos capitalistas de evitar
que os salários cresçam a ponto de engolir os lucros [45/26]. Em outras palavras, partindo da
interpretação comum da teoria do valor de Marx como essencialmente parecida com a
da economia política clássica, Lange argumenta que existe uma lacuna entre os “conceitos
econômicos específicos” estáticos usados por Marx e sua “especificação definida
da estrutura em que se desenvolve o processo econômico na sociedade capitalista” [27].
Somente esta última é capaz de explicar a dinâmica histórica da formação social. A lei
do valor, de acordo com Lange, é uma teoria de equilíbrio; como tal, ela nada tem a
ver com a dinâmica de desenvolvimento do capitalismo.
Vimos que, se a teoria marxiana de valor for basicamente a mesma da economia
política clássica, ela não fornece diretamente, nem pode fornecer, a base para uma crítica
histórica do capitalismo nem para uma explicação do seu caráter dinâmico. (Então, por
implicação, a minha reinterpretação deve mostrar que as categorias marxianas básicas
desenvolvidas no nível lógico inicial da sua análise são de fato críticas do capitalismo
e implicam uma dinâmica histórica imanente.)
De acordo com as interpretações resumidas até agora, a teoria de Marx do valor-trabalho desmistifica (ou ''desfetichiza'') a sociedade capitalista revelando ser o trabalho
a verdadeira fonte de toda riqueza social. Essa riqueza é distribuída “automaticamente”
pelo mercado e é apropriada pela classe capitalista de maneira não aberta. O significado
essencial da crítica de Marx é, portanto, revelar sob a aparência de troca de equivalentes
a existência da exploração de classe. Considera-se que o mercado e a propriedade privada
dos meios de produção são as relações capitalistas de produção essenciais, expressas
pelas categorias do valor e mais-valor. A dominação social é tratada como função da
dominação de classe que, por sua vez, está enraizada na “propriedade privada na terra
e no capital” [28]. No âmbito dessa estrutura geral, as categorias do valor e mais-valor
expressam como o trabalho e seus produtos são distribuídos numa sociedade de classe
baseada no mercado. Mas eles não são interpretados como categorias de formas particulares
de riqueza e trabalho.
Qual é a base dessa crítica do modo burguês de distribuição e apropriação? Nas
palavras de Dobb, ela é uma “teoria da produção” [29]. Como já vimos, Dobb considera
ser essa a teoria que, ao identificar as classes que verdadeiramente contribuem produtivamente
para a sociedade econômica, oferece uma base para colocar em questão o
papel das classes não produtivas. A economia política clássica, pelo menos na forma
ricardiana, mostrou que a classe dos grandes proprietários de terras não era produtiva;
Marx, ao desenvolver a teoria do mais-valor, fez o mesmo com a burguesia.
Deve-se notar, e isso é crucial, que essa posição implica que o caráter da crítica de
Marx sobre o capitalismo é basicamente idêntico ao da crítica burguesa sobre as ordens
anteriores da sociedade. Nos dois casos, trata-se de uma crítica das relações sociais sob
o ponto de vista do trabalho. Mas, se o trabalho é o ponto de vista da crítica, ele não
é, nem pode ser, seu objeto. O que Dobb chama de “teoria da produção” gera uma
crítica não da produção, mas do modo de distribuição, e o faz baseado numa análise
da “verdadeira” fonte produtiva da riqueza, o trabalho.
Nesse ponto, pode-se perguntar se a crítica marxiana é fundamentalmente semelhante
em estrutura à economia política clássica. Como já vimos, esse entendimento
pressupõe que a teoria marxiana de valor é idêntica à da economia política; portanto,
sua crítica do capitalismo ainda não é expressa pelo nível lógico inicial da sua análise.
Vista assim, a crítica de Marx começa mais tarde na exposição da sua teoria em O capital,
a saber, na distinção que faz entre as categorias de trabalho e força de trabalho e,
por associação, no seu argumento de que o trabalho é a única fonte de mais-valor. Em
outras palavras, considera-se que sua crítica se interessa primariamente em demonstrar
que a exploração é estruturalmente intrínseca ao capitalismo. O pressuposto de que
a categoria de valor de Marx é basicamente a mesma de Ricardo indica que suas concepções
do trabalho que constitui valor devem também ser basicamente idênticas. A
ideia de que o trabalho é a fonte da riqueza e o ponto de vista de uma crítica social é,
como já observado, típica da crítica social burguesa e tem origem nos textos de John
Locke e encontrou sua expressão mais consistente na economia política de Ricardo.
A leitura tradicional de Marx — que interpreta suas categorias como as da distribuição
(o mercado e a propriedade privada) e identifica as forças de produção no capitalismo
com o processo (industrial) de produção - depende, em última análise, da identificação
da noção de trabalho como fonte de valor de Ricardo, com a de Marx.
Mas essa identificação é enganosa. A diferença essencial entre a crítica de Marx da
economia política e a economia política clássica é exatamente o tratamento do trabalho.
É verdade que, ao examinar a análise de Ricardo, Marx o elogia assim:
A base, o ponto de partida da fisiologia do sistema burguês [...] é a determinação
do valor pelo tempo de trabalho. Ricardo começa com isso e força a ciência [...]
a examinar como ficam as coisas com a contradição entre os movimentos aparentes
e reais do sistema. Esse é então o grande significado histórico de Ricardo
para a ciência. [30]
Mas essa homenagem não implica, de forma alguma, que Marx tenha adotado a
teoria do valor-trabalho de Ricardo. Nem se devem entender as diferenças entre os dois
apenas em termos dos métodos diferentes de apresentação analítica. É verdade que, no
que se refere a Marx, a exposição de Ricardo avançou depressa e diretamente demais
da determinação da grandeza do valor pelo tempo de trabalho até a consideração de
se outras relações e categorias econômicas contradizem ou modificam essa determinação [31]. Marx age de modo diferente: no final do primeiro capítulo de Contribuição à
crítica da economia política, relaciona as principais objeções à teoria do valor-trabalho
e afirma que elas serão respondidas pelas suas teorias de salário, capital, concorrência e
renda [32]. Essas teorias são expostas por categoria ao longo dos três livros d’O capital.
No entanto, seria enganoso sustentar, como Mandei, que elas representam “a contribuição
própria de Marx para o desenvolvimento da teoria econômica” [33] — como se
Marx tivesse se limitado a repassar a teoria de Ricardo e não tivesse desenvolvido uma
crítica fundamental dela.
A principal diferença entre Ricardo e Marx é muito mais fundamental. Marx
não se limita a tornar mais consistente “a determinação do valor de troca pelo tempo
de trabalho” [34]. Afinal, depois de ter adotado e refinado a teoria do valor-trabalho de
Ricardo, Marx o critica por ter postulado uma noção indiferenciada de “trabalho”
como fonte de valor sem ter examinado em mais detalhe a especificidade do trabalho
produtor de mercadoria:
Ricardo parte da determinação dos valores relativos (ou valores de troca) das
mercadorias pela “quantidade de trabalho”. [...] Mas Ricardo não examina a forma
- a característica peculiar do trabalho que cria o valor de troca ou se manifesta
em valores de troca — a natureza desse trabalho. [35]
Ricardo não reconheceu a determinação histórica da forma do trabalho associada
com a forma-mercadoria das relações sociais, mas, pelo contrário, a trans-historizou:
“Ricardo considera a forma burguesa de trabalho como a forma natural e eterna do
trabalho social” [36]. E é precisamente essa concepção trans-histórica do trabalho constituinte
de valor que impede uma análise adequada da formação social capitalista.
A forma de valor do produto do trabalho é a forma mais abstrata, mas também mais
geral do modo burguês de produção, que assim se caracteriza como um tipo particular
de produção social e, ao mesmo tempo, um tipo histórico. Se tal forma é tomada pela
forma natural eterna da produção social, também se perde de vista necessariamente a
especificidade da forma de valor, e assim também da forma-mercadoria e, num estágio
mais desenvolvido, da forma-dinheiro, da forma-capital etc. [37]
Uma análise adequada do capitalismo só será possível, de acordo com Marx, se
partir de uma análise do caráter historicamente específico do trabalho no capitalismo.
A determinação inicial e básica dessa especificidade é o que Marx chama de “duplo
caráter” do trabalho determinado por mercadoria.
O melhor com relação ao meu livro é 1. (o entendimento total dos fatos depende
disso) o duplo caráter do trabalho dependendo de ele se expressar como valor de
uso ou valor de troca — como já enfatizado no primeiro capítulo; 2. O tratamento
da mais valia independentemente das suas formas particulares, como lucros, juros,
renda etc. [38]
Na segunda parte deste livro desenvolverei uma discussão extensa da noção de
Marx do “duplo caráter” do trabalho no capitalismo. Neste ponto notarei apenas que,
de acordo com o relato do próprio Marx, sua crítica do capitalismo não começa com
a introdução da categoria de mais-valor; ela começa no primeiro capítulo d’O capital
com a sua análise da especificidade do trabalho determinado por mercadoria. Isso
marca a distinção fundamental entre a crítica de Marx e a economia política clássica,
distinção de que depende o “entendimento total dos fatos”. Smith e Ricardo, de
acordo com Marx, analisaram a mercadoria em termos de uma noção indiferenciada
de “trabalho” [39] como “Arbeit sans phrase” [59/40]. Se sua especificidade histórica não for
reconhecida, o trabalho no capitalismo será considerado de maneira trans-histórica e,
em última análise, acrítica como ‘“o' trabalho” [41], ou seja, como “a atividade produtiva
dos seres humanos em geral, pela qual eles medeiam seu metabolismo material com a natureza, despojado [...] de toda forma social e caráter determinado” [42]. Mas, de
acordo com Marx, o trabalho social per se — “a atividade produtiva dos seres humanos
em geral” — é um reles fantasma, uma abstração que, considerada por si só, não existe
de forma alguma [43].
Então, contrariamente à interpretação comum, Marx não adota a teoria do valor-trabalho de Ricardo, torna-a mais consistente e a usa para provar que o lucro é criado
apenas pelo trabalho. Ele escreve uma critique da economia política, uma crítica
imanente da teoria do valor-trabalho clássica. Marx toma as categorias da economia
política clássica e desvela sua base social historicamente específica não examinada.
Assim, ele as transforma de categorias trans-históricas da constituição de riqueza em
categorias críticas da especificidade das formas de riqueza e relações sociais no capitalismo.
Ao analisar o valor como uma forma historicamente determinada de riqueza, e
expor a natureza “dupla” do trabalho que a constitui, Marx argumenta que o trabalho
que cria valor não pode ser adequadamente entendido como trabalho tal como é geralmente
entendido, ou seja, como uma atividade intencional que muda a forma da
matéria de uma maneira determinada [44]. Ou melhor, o trabalho no capitalismo possui
uma dimensão social adicional. O problema, de acordo com Marx, é que, apesar de
o trabalho determinado por mercadoria ser social e historicamente específico, ele se
apresenta numa forma trans-histórica como uma atividade que medeia entre seres
humanos e natureza, como “trabalho”. Então, a economia política clássica se baseou na
forma trans-histórica da aparência de uma forma social historicamente determinada.
É crucial a diferença entre uma análise baseada na noção de “trabalho”, como na
economia política clássica, e outra baseada no conceito do duplo caráter, concreto e
abstrato, do trabalho no capitalismo; nas palavras de Marx, esse é “todo o segredo
da concepção crítica” [45]. Ela resume a diferença entre uma crítica social que parte do
ponto de vista do “trabalho”, um ponto de vista que não é ele próprio examinado, e
outra em que a forma do trabalho em si é objeto de investigação crítica. A primeira
permanece confinada nos limites da formação social capitalista, ao passo que a segunda
aponta além dela.
Se a economia política clássica oferece a base para uma crítica da sociedade do
ponto de vista do “trabalho”, a crítica da economia política resulta numa crítica daquele
ponto de vista. Portanto, Marx não aceita a formulação de Ricardo do objetivo da
investigação político-econômica, a saber, “determinar as leis que regulam essa distribuição” da riqueza social entre as várias classes da sociedade [46], pois tal investigação toma
como verdadeira a forma do trabalho e da riqueza. Pelo contrário, em sua crítica Marx
redefine o objeto da investigação. O centro do seu interesse passa a ser as formas de
trabalho, riqueza e produção no capitalismo, e não somente a forma de distribuição.
A redeterminação fundamental de Marx sobre o objeto da investigação crítica
também implica uma importante reconceituação analítica da estrutura da ordem
social capitalista.
A economia política clássica expressou a crescente diferenciação histórica entre
Estado e sociedade civil e se interessou pela segunda esfera. Já se argumentou que a
análise de Marx foi uma continuação desse estudo e que ele identificou a sociedade
civil como a esfera social governada pelas formas estruturantes do capitalismo [47]. Como
elaborarei adiante, as diferenças entre as abordagens de Marx e as da economia política
sugerem que ele tenta ir além da conceituação da sociedade capitalista em termos da
oposição entre Estado e sociedade civil. A crítica de Marx da economia política (escrita
depois da ascensão da produção industrial em larga escala) argumenta de maneira
implícita que o que é central à sociedade capitalista é o seu caráter direcionalmente
dinâmico, uma dimensão da vida social moderna que não pode ser adequadamente
baseada em nenhuma dessas esferas diferenciadas da sociedade moderna. Ele prefere
tentar entender essa dinâmica delineando outra dimensão social da sociedade moderna.
E essa a significância fundamental da sua análise da produção. Marx investiga a esfera
da sociedade civil, mas em termos das relações burguesas de distribuição. Sua análise
da especificidade do trabalho no capitalismo e das relações capitalistas de produção
tem outro objetivo teórico; é uma tentativa de basear e explicar a dinâmica histórica
da sociedade capitalista. Portanto, a análise de Marx sobre a esfera da produção não
deve ser entendida em termos de “trabalho” nem consideradas como privilegiando
o “ponto de produção” sobre outras esferas da vida social. (De fato, ele indica que a
produção no capitalismo não é um processo puramente técnico regulado pelas relações
sociais, mas que incorpora essas relações; ele determina e é determinado por elas.)
Como tentativa de elucidar a dimensão social historicamente dinâmica da sociedade
capitalista, a análise de Marx da produção argumenta implicitamente que essa dimensão
não pode ser entendida em termos de Estado ou sociedade civil. Pelo contrário, a dinâmica histórica do capitalismo desenvolvido embute e transforma cada vez mais
essas duas esferas. Portanto, não está em questão a importância relativa “da economia”
e “do Estado”, mas a natureza da mediação social no capitalismo, e a relação entre essa
mediação e a dinâmica direcional característica dessa sociedade.
Notas
[1] Maurice Dobb,
Political Economy and Capitalism, cit., p. 70-1.
[2] Ibidem, p. 37.
[3] Ibidem, p. 9.
[4] Ibidem, p. 63.
[5] Ibidem, p. 55.
[6] Idem.
[7] Ibidem, p. 49.
[8] Ibidem, p. 38-9.
[9] Ibidem, p. 50.
[10] Idem.
[11] Ibidem, p. 58.
[12] Ibidem, p. 58-62.
[13] Ibidem, p. 67.
[14] Ibidem, p. 56, 58.
[15] Ibidem, p. 75.
[16] Ver, por exemplo, Ernest Mandel, The Formation o f E conomic Thought o f Karl Marx, cit., p.
82-8; Paul Walton e Andrew Gamble, From Alienation to Surplus Value (Londres, Sheed and
Ward, 1972), p. 179; George Lichtheim, Marxism: An Historical and Critical Study (Nova York/
Washington, Praeger, 1965), p. 172s.
[17] Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism, cit., p. 55.
[18] Essa posição está intimamente ligada à interpretação espúria dos primeiros capítulos d’O capital
como uma análise de um estágio pré-capitalista de “simples produção de mercadorias”. Discutirei
essa questão com mais detalhes a seguir.
[19] Martin Nicolaus fornece um exemplo mais recente dessa abordagem: na introdução da sua
tradução dos Grundrisse, Nicolaus afirma que “com o conceito de ‘força de trabalho’, Marx resolve
a contradição intrínseca da teoria clássica de valor. Ele preserva o que é bom nela, a saber,
a determinação do valor pelo tempo de trabalho [...]. Ao romper as limitações nela contidas,
Marx transformou a velha teoria no seu oposto; de uma legitimação da dominação burguesa na
teoria [...] que explica como a classe capitalista enriquece com o trabalho dos operários”. Martin
Nicolaus, “Introdução”, em Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (trad. Martin Nicolaus, Londres, Penguin, 1973, p. 46).
[20] Ver Henryk Grossman, Marx, die klassische Nationalökonomie und das Problem der Dynamik (Frankfurt, Europäische Verlagsanstalt, 1969).
[21] Oskar Lange, “Marxian Economics and Modern Economic Theory”, em David Horowitz (org.),
Marx and Modern Economics (Londres, MacGibbon & Kee, 1968), p. 76. (Esse artigo foi publicado
na edição de junho de 1935 de The Review o f Economic Studies.)
[22] Idem.
[23] Ibidem, p. 78-9.
[24] Ibidem, p. 81.
[25] Ibidem, p. 82.
[26] Ibidem, p. 84.
[27] Ibidem, p. 74.
[28] Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism, cit., p. 78.
[29] Ibidem, p. 39.
[30] Karl Marx, Theories of Surplus Value (trad. Renate Simpson, Moscou, Progress, 1968), parte 2,
p. 166 [ed. bras.: Teorias da mais-valia: história critica do pensamento econômico, trad. Reginaldo
SantAnna, São Paulo, Bertrand Brasil, 1987].
[31] Ibidem, p. 164.
[32] As objeções relacionadas por ele são as seguintes: primeira, dado o tempo de trabalho como a
medida imanente de valor, como os salários serão determinados nessa base? Segunda, como
a produção baseada no valor de troca determinado apenas pelo tempo de trabalho pode levar ao
resultado de ser o valor de troca do trabalho inferior ao valor de troca do seu produto? Terceira,
como, com base no valor de troca, poderia surgir um preço de mercado diferente desse valor de
troca? (Em outras palavras, valores e preços não são idênticos.) Quarta, como pode acontecer de
mercadorias que não contêm trabalho terem valor de troca? (Ver Contribuição à crítica da economia
política, cit., p. 191-2.) Muitos críticos da teoria de valor de Marx parecem não saber que ele
reconhece esses problemas para não mencionarem as suas soluções propostas.
[33] Ernest Mandel, The Formation of Economic Thought of Karl Marx, cit., p. 82-3.
[34] Karl Marx, Contribuição à crítica da economia política, cit., p. 91.
[35] Idem, Theories of Surplus Value, cit., parte 2, p. 164.
[36] Idem, Contribuição à crítica da economia política, cit., p. 90.
[37] Idem, O capital, cit., Livro I, nota 32, p. 155.
[38] Marx para Engels, 24 de agosto de 1867, em Marx-Engels Werke (a partir de agora MEW), v. 31
(Berlim, Dietz, 1956-1968), p. 326.
[39] Karl Marx, “Results of the Immediate Process of Production'’ cit., p. 992.
[40] Marx para Engels, 8 de janeiro 1868, MEW, v. 32, p. 11.
[41] Karl Marx, Capital, cit., Livro III, p. 954.
[42] Idem.
[43] Idem.
[44] “Os economistas, sem exceção, não entenderam a questão simples segundo a qual se a mercadoria
é uma dualidade de valor de uso e valor de troca, o trabalho representado na mercadoria tem
também de ter duplo caráter, ao passo que a mera análise de trabalho sans phrase, como em Smith,
Ricardo etc. deverá por toda parte enfrentar o inexplicável. Esse é, na verdade, todo o segredo da
concepção crítica”. Marx para Engels, 8 de janeiro de 1868, MEW, v. 32, p. 11.
[45] Idem.
[46] David Ricardo, Principles of Political Econony and Taxation, (org. Piero Sraffa e Maurice Dobb,
Cambridge, University Press for the Royal Economic Society, 1951), p. 5.
[47] Ver, por exemplo, Jean Cohen, Class and Civil Society, cit.